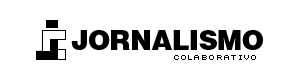Como surgiu e se mantém a orquestra mais rica e diversa de São Paulo
Estamos em crise. Crise política, econômica e mais do que isso, imersos, ainda que indiretamente, em uma crise de escala global que tem relocado mais cidadãos ao redor do mundo do que jamais visto na história. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a situação de refugiados atualmente já é considerada a maior tensão humanitária do século, tendo contabilizado somente em 2015 mais de 65,3 milhões de indivíduos que deixaram sua terra natal por conta de instabilidades políticas, perseguições por raça, credo, nacionalidade ou grupo social.
E, por mais que esse cenário não seja o nosso ou que suas consequências não batam diretamente em nossa porta e peçam por acolhimento, não tem jeito: sempre iremos nos deparar com um pedaço de outro mundo, outra vivência decorando o nosso caminho.
Seja nos trabalhos informais que tantos são obrigados a aceitar para a própria sobrevivência ou nas calçadas das metrópoles tocando algum instrumento ou proferindo um discurso em uma língua estranha para os nossos ouvidos, a cultura sempre acaba por se mesclar. Claro que ainda existem os mais relutantes, que não aceitam e se recusam a prestar atenção nos fatos, mas felizmente, se olharmos um pouco só além do nosso capacho doméstico, conseguimos sentir o ar de outro cenário, o toque de outro povo e a carícia sinestésica da sonoridade de uma outra língua que, não surpreendentemente, tem tanto para dizer quanto a nossa.
Outros dados, desta vez fornecidos pelo relatório “Refúgio em Números” do instituto CONARE (Comitê Nacional Para os Refugiados) indicam que até o final de 2017, o Brasil registrou um total de 10.145 casos de imigrantes locados no país. Como dito acima, não simplesmente mais se fecha os olhos para tais estatísticas. E, graças a iniciativa de alguns profissionais da música de São Paulo, tampouco os ouvidos.
“Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria
Filha do medo, a raiva é mãe da covardia
Ou doido sou eu que escuto vozes
Não há gente tão insana
Nem caravana do Arará”.
Para nós, brasileiros por registro e por essência, é costumeiro ouvir estes versos cantados por Chico Buarque, dono de voz tão suave que perfeitamente contrasta com a agressividade do significado da composição. Ao ouvirmos Chico Cantar, temos a ironia exposta e elevada ao absurdo, retratando o que o nacionalista mais arcaico pensa e grita com euforia. Já nas vozes de iranianos, cubanos e sírios, chineses, palestinos e franceses, se torna grito de revolta, de reflexão perfeita de uma realidade. Tudo na língua de quem passa por isso e encontra um refúgio no fundo da garganta perante aos que querem ouvi-los de verdade.
O primeiro nome a tratar aqui é o de Carlos. Carlos Eduardo Coltro Antunes, ou apenas Carlinhos, que mais combina com a figura dinâmica do artista. Caricato, caloroso e criativamente explosivo, o arranjador, multi-instrumentista, cantor, compositor e produtor é o diretor do projeto que tem fundido todas essas culturas. Filho de sapateador, amante dos clássicos de cinema desde pequeno e, quando criança, teve a singularidade de tocar em bandas da própria Jovem Guarda brasileira, Carlinhos rege a orquestra Mundana Refugi com um fôlego e inspiração que contagiam — e silenciam — o cômodo, seja este um estúdio de gravação ou em uma performance ao ar livre, captando os olhares corriqueiros ao seu redor.
Com 40 anos de carreira em sua conta, Carlinhos diz que a orquestra nasceu de anúncios direcionados às comunidades de onde vinham muitos os frequentadores do Sesc Consolação, no qual trabalhava no momento. Convidava os futuros participantes com os simples dizeres, “se você canta ou toca algum instrumento, junte-se a nós” e, de pouco em pouco, as oficinas cresceram e o número de membros também. Então, por que não oficializar? Daí nasceu a Mundana Refugi, orgulho tanto de Carlinhos quanto de seus membros, tão enriquecedores e complexos quanto seu próprio mentor.
A música “Caravanas”, presente de e para o próprio Chico Buarque, uma vez que concedida pelo músico para a regravação da orquestra, já é um panorama perfeito da experiência cultural que é assistir uma apresentação do grupo.
Gritos de indignação são ouvidos não ao fundo, mas na admirável audácia de se pausar a melodia para que todos tenham a sua vez. Tudo gravado, tudo por cima do original, tudo atropelando a sutileza e reverberando a realidade.
Como grita Carlinhos em meio à empolgação de assistir sua criação tomando forma, “joga pedra na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir”, outra genialidade subversiva de Chico. É esse o clima: guerra, gritos e a verdade escancarada.
Geni era repudiada por fazer o que queria sem se importar com a postura. E no mesmo passo, seguem os imigrantes: eles vem, eles falam em suas línguas tão distintas ao nosso ouvido, eles contribuem com a construção desta terra. Eles cantam, tocam instrumentos de percussão que reproduzem a batida da sua terra, tocam com altivez, ostensividade e imponência. Ao menos, o fazem durante os espetáculos da orquestra, o momento que encontraram para não só relembrar de onde vieram, mas também, para incorporar suas raízes neste novo solo em que estão sendo recebidos.
Na orquestra, os mais belos e diversos perfis são encontrados. Um dos primeiros a chegar na última fase de ensaio de “Caravanas” é Leonardo Matumona, refugiado da crise violenta que domina o Congo. De andar tranquilo e roupas descoladas, Leo é um cartão postal de São Paulo ambulante. Claro que, falando francês e tornando-se um protestante voraz quando está com o microfone na mão.
Outra que logo chega, trazendo consigo sorrisos e delicadeza é Mah Mooni, cantora iraniana de cabelos loiros e encaracolados que tem uma suavidade intangível ao falar. Mas não ao cantar — ao cantar, sua voz nos remete a um cântico local nunca ouvido por essas bandas. Porém, com tamanha descrição, não se pode deixar de fora a força de Mooni que, além de modelo inclusiva e paratleta no
velejo, foi crítica ferrenha do regime no Teerã, o qual não permitia que ela seguisse seu sonho na música.
Mariama Camara também se encarregou de dominar o ambiente ao chegar. Não satisfeita com a música, a imigrante do Guiné também trabalha como bailarina e percussionista, ministrando oficinas de dança do Oeste da África, sempre com o cuidado de contextualizar cada ritmo, passo e instrumental utilizado, agindo como uma verdadeira professora desta cultura para os que se propõe a conhece-la. Ela conta que sim, a xenofobia acaba por ser inevitável, mas além de vir para o Brasil para difundir a sua cultura e conseguir melhor condições de vida, chegou na Bahia porque, segundo relatos, “era igual o seu país”. Brincando, ainda conta que queria conhecer seus ídolos, Pelé e Cristiano Ronaldo. Não a corrigi quanto ao último.
Conversa vai, conversa vem, conheci naquela noite o relato mais profundo, o de Luis Cabrera. Cubano nascido no auge do regime de Fidel, na década de 70, ele conta que, assim como muitos, saiu de sua cidade de origem, pequena e distante para a capital, Havana, em busca de novas formas de emprego e oportunidades.
A cidade entrou rapidamente em colapso com a superlotação de trabalhadores vindos do interior e nisso, os únicos permitidos a permanecer na capital eram aqueles com endereços oficiais. Embora Luis fosse um deles, devido ao choque econômico que acontecia no momento, o mercado negro cresceu e, bastaram as autoridades checarem suas malas de viagem lotadas de roupas para incluírem Luis no mesmo grupo, sempre checando seus documentos e pulando para conclusões precipitadas. Cansado, ele decidiu que a próxima vez que saísse do país, seria para ficar. E assim foi.
Quando o questiono de o porquê de ter escolhido o Brasil, ele diz que, “não fui eu que escolhi o Brasil, foi o Brasil que me escolheu […] Foi uma questão de energia, o Brasil sempre foi uma coisa enigmática não só para mim, mas para todos os cubanos. Os dois países têm uma relação muito boa com a arte, reconhecem muito o trabalho do outro e o valorizam”, conclui Luis logo após dizer “por que não a Dinamarca?” e descrever seu novo lar com tamanha riqueza.
Ele também ressalta o sincretismo étnico com Cuba e, quando o pergunto sobre sua recepção no Brasil, ele responde que sofreu preconceito por ser “gringo”, e não necessariamente cubano. Faz questão de dizer que esta xenofobia está presente no mundo todo e não só no Brasil. Fala contente sobre como a sua música é recebida aqui e conta sobre sua formação na área ainda em Cuba, orgulhoso por dizer que foi desde criança. Finaliza ressaltando também que “a música brasileira com certeza tem influência sobre mim”, fechando o bate papo. Luis parece estar satisfeito com o desdobramento das tuas desventuras por aqui.
Os exemplos são muitos. Com a correria de entrar e sair do estúdio, das revisões de última hora da letra e ensaios escondidos no corredor quando cada um esperava o seu momento de gravar, a absorção de quem está lá dentro é simplesmente revigorante. Enquanto uns eram já fluentes no português, outros ainda se garantiam via gestos, assentindo e negando com a cabeça, mas tudo se encaixava, tudo se entendia.
E nisso, a composição de Chico, surpreendentemente, se tornou ainda mais rica e profunda em sua significação